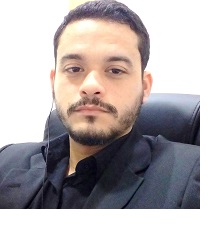Teoria da Decisão Judicial
Gisele Leite
Professora universitária há 3 décadas; Mestre em Direito; Mestre em Filosofia; Doutora em Direito; Pesquisadora – Chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas; 29 obras jurídicas publicadas; Articulistas dos sites JURID, Lex Magister; Portal Investidura, Letras Jurídicas; Membro do ABDPC – Associação Brasileira do Direito Processual Civil; Pedagoga; Conselheira das Revistas de Direito Civil e Processual, Revista de Direito Trabalho e Processo, Revista de Direito Prática Previdenciária da Paixão Editores – POA – RS
Resumo: A teoria da decisão judicial explora os mecanismos e processos que levam um juiz ou tribunal a tomar uma decisão, analisando a influência de fatores jurídicos, psicológicos, sociais e políticos. Em suma, trata-se do estudo interdisciplinar de como os julgamentos são feitos, desde a análise das provas e legislação até as considerações subjetivas do juiz. A teoria da decisão judicial busca compreender a natureza da decisão judicial, desde a sua formação até a sua fundamentação. A decisão judicial não é apenas uma aplicação mecânica da lei, mas um processo complexo que envolve diferentes elementos, incluindo: Fato: Os fatos do caso, as provas apresentadas e as informações relevantes. Lei: As normas jurídicas aplicáveis ao caso, incluindo leis, jurisprudência e precedentes. Interpretação: A interpretação da lei e dos fatos, que pode ser subjetiva e influenciada pelas convicções do juiz. Fundamentação: A justificação da decisão, que deve ser clara, lógica e consistente com as provas e a lei. Juiz: A personalidade, a experiência e as convicções do juiz, que podem influenciar a sua decisão. Conflitos: Os conflitos entre as partes e as diferentes interpretações da lei. Influências externas: As pressões sociais, políticas e econômicas que podem influenciar a decisão do juiz. O estudo da teoria da decisão judicial é importante por vários motivos:Transparência: Ajuda a entender como as decisões judiciais são tomadas, o que contribui para a transparência do sistema judiciário. Justiça: Ajuda a identificar possíveis vieses e injustiças nas decisões judiciais, o que contribui para a melhoria da justiça. Previsibilidade: Ajuda a entender como as decisões judiciais são tomadas, o que contribui para a previsibilidade do direito. Formação de juízes: Ajuda a preparar juízes para tomar decisões mais justas e transparentes. Desenvolvimento do direito: Ajuda a desenvolver o direito, contribuindo para a construção de uma legislação mais adequada e justa.
Palavras-chave: Decisão Judicial. Hermenêutica Jurídica. Robert Alexy. Filosofia do Direito. Justiça.
Decidir, do latim “decidere” (formado por “de” – fora e “caedere” – cortar), implica no ato de escolha de uma solução após verificação das variáveis possíveis. Segundo a etimologia da palavra, decidir significa “cortar fora” todas as outras possibilidades e decidir por uma.
Nesse sentido, no âmbito jurídico, a decisão judicial se traduz na ação do magistrado em definir a resposta adequada a determinado caso concreto, demandado via ação judicial, de modo que este sujeito substitui a vontade das partes e se pronuncia resolvendo o conflito de forma livre, desde que fundamentada.
Existem a Teorias da Decisão Judicial que, têm como expoentes, Ronald Dworkin, Habermas e Robert Alexy. Tais teorias visam elucidar quais são os critérios de uma fundamentação idônea, permitindo racionalizar o processo de escolhas.
A teoria da decisão judicial: do normativismo kelseniano ao paradigma da incerteza. O termo paradigma foi consolidado a partir das teorias desenvolvidas por Thomas Kunh, sobretudo em sua obra “A estrutura das revoluções científicas”, em que conceituou como:
“[…] realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.
O normativismo kelseniano, por esta lógica, reduziu o direito à dogmática da legalidade. A lei não haveria de contemplar necessariamente elementos sociais como a moral. Do mesmo modo, a decisão judicial passa a ser uma tarefa eminentemente pautada na subsunção do fato a norma.
Outrossim, com Kelsen “[…] a Teoria da Decisão Judicial reduziu a jurisdição à condição de ato meramente cognitivo, no qual o julgador identificava a norma aplicável àquele conjunto de dados empíricos que se desenhavam no processo.
No início no século XVIII, o movimento iluminista oferece o pano de fundo para novas mudanças, entre elas a ascensão das ciências sociais no século XIX, em virtude da crise do paradigma dominante das ciências modernas.
O modelo de racionalidade científica, neste momento, não dá conta de explicar todos os fenômenos, sendo posto em xeque por diversos pensadores tais como Einstein com a teoria da relatividade, Gödel com o teorema da incompletude, além da mecânica quântica, princípio da incerteza de Heinsenberg e avanços na microfísica, química e biologia nos últimos vinte anos.
A ruptura no paradigma clássico das ciências naturais e exatas, o novo paradigma das ciências contemporâneas introduz a preocupação com as exceções às leis formuladas, rompendo com a ideia de leis universais.
As ciências exatas e naturais, neste momento, passam a lidar com a maior angústia conferida às ciências humanas e sociais: a subjetividade.
[…] Nesse sentido, Heisenberg, Bohr e o seu ‘princípio da incerteza’[1] implodiram a noção de que o cientista não interferia no objeto de sua experiência, liquidando a possibilidade de uma ciência neutra/objetiva. […] A ‘desgraça’ das ciências humanas residia exatamente no fato de o cientista não poder separar-se do objeto de sua pesquisa, a sociedade. Agora, esse problema chegava às ciências naturais, pois o homem via-se, então, indissociável da natureza.
O paradigma contemporâneo supera o determinismo, a noção de ordem, mecanicismos, evolução e objetividade e se caracteriza pela imprevisibilidade, espontaneidade, acidente e subjetividade.
Nas ciências humanas, o paradigma contemporâneo é inaugurado por meio da “Filosofia da linguagem”, sobretudo por meio dos estudos de Ludwig Wittgenstein (1970) e da hermenêutica filosófica de Martin Heidegger (1988) e Hans-George Gadamer (1977).
Por estes postulados, a função da linguagem vai muito além da noção de mero “[…] instrumento de intermediação comunicativa de transmissão dos fenômenos empíricos e abstratos da ciência”.
O paradigma científico contemporâneo no Direito, e, por conseguinte, na Teoria da Decisão, são marcados pela intersubjetividade e incerteza controladas pela correção por meio dos argumentos ínsitos na decisão.
Destarte, o que fiscalizará a decisão neste novo paradigma é o convencimento pela argumentação. Por isso, o estudo detido da argumentação passa ser a maior preocupação da hermenêutica no paradigma contemporâneo.
A Teoria da Decisão Judicial de Robert Alexy consagra a técnica argumentativa da ponderação de valores constitucionais e a compreensão principiológica do Direito, especialmente o princípio da proporcionalidade com o fim de racionalizar e legitimar o papel de legislador positivo.
Apresenta-se como superação do normativismo kelseniano e rompe com a ideia silogística de subsunção do fato à norma que reinou durante quase mil anos. Inclusive, vai além da Tópica de Viehweg e Nova Retórica de Perelman, fazendo parte do que se denominou Comunitarismo.
O Silogismo[2] com origem em Aristóteles segue a seguinte lógica: tem-se uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, sendo que tais premissas devem ser verdadeiras, apesar de haver a possibilidade de serem falsas.
Assim, transportando essa ideia para a Teoria da Decisão Judicial, tem-se que uma norma abstrata se enquadraria na premissa maior, o fato na premissa menor e a sentença seria a conclusão.
O magistrado deve se ater eminentemente à literalidade da norma abstrata com o fim de subsumir o fato à norma, partindo da ideia de que todos os casos concretos se amoldariam em uma “caixinha” – normas. Não há, por esta teoria, nenhuma preocupação com as nuances do caso concreto, como se houvesse apenas uma verdade.
A Tópica de Viehweg[3] rompe com o tecnicismo positivista, valorizando as peculiaridades do caso concreto. Por este motivo, a Tópica acrescenta um novo colorido à Teoria da Decisão Judicial que até este momento era ventilada pelo silogismo.
Pensar em uma Teoria da Decisão Judicial eminentemente em termos silogísticos, com a supervalorização do conhecimento da norma, em detrimento das circunstâncias do caso concreto.
Pela concepção voluntarista/discricionária da Teoria da Decisão de Kelsen (1979), isto é: o operador do Direito que, segundo o normativismo, não tinha um critério normativo objetivo que regulasse a correção de sua decisão, passava a regular-se pelo grau de convencimento causado pela fundamentação de sua decisão.
Naquele momento, ele desenvolveu/valorizou o elemento dialético, qual seja, o de disputa argumentativa na construção da decisão[…]
A dialética na Teoria da Decisão Judicial valoriza as diversas vertentes do caso concreto com o fim de trazer ao debate todas as dimensões do problema, de modo a promover a mais ampla discussão, facilitando assim abordagem de questões complexas. Perelman, no mesmo sentido, desenvolveu a Nova Retórica adotando a lógica dialética com fins de “procedimentalizar controvérsias” através do discurso.
A decisão judicial deveria avaliar o que é mais razoável para determinado caso usando da equidade, como meio de justificação da decisão. Isso porque, “[…] a ponderação de valores e adesão dos participantes no processo seria a maneira mais adequada de apreciação de casos complexos.”
O comunitarismo[4], mais adiante, se desenvolve como meio termo entre o marxismo e o liberalismo, entendendo os valores comunitários como produto das relações dialógicas entre os indivíduos e a comunidade.
Percebe a comunidade como espaço plural em que o conteúdo moral desta só se extrai de um amplo diálogo entre os interessados. Partindo desta premissa, o Comunitarismo agrega ao Direito a visão plural de mundo e a necessidade de se abrir ao diálogo de ideias e valores da comunidade, em respeito às peculiaridades de cada uma delas, como instrumento racional da própria ideia de justiça.
Desse modo, a “Jurisprudência de Valores”[5] sustentou seus postulados na Tópica de Viehweg, Nova Retórica de Perelman e no Comunitarismo, negando a lógica silogística empreendida por Aristóteles.
Neste contexto, Robert Alexy empreendeu sua Teoria da Argumentação com fins de agregar critérios de correção às decisões judiciais a partir da Tópica. Por não haver nenhum critério lógico de aferição das decisões até então, era preciso acrescentar um “plus” de racionalidade a esta nova Teoria da Decisão Judicial que se desenvolveu na contemporaneidade pós-Kelsen.
Alexy, reconhecendo a supremacia dos princípios constitucionais no Ordenamento Jurídico, preocupou-se com a ética discursiva e com o exame das regras de linguagem, não se desvencilhando, contudo, da concretude dos fatos na argumentação.
A fim de conferir maior proteção aos direitos fundamentais, erigiu sua teoria da argumentação dando ênfase ao aspecto dialógico do discurso e à racionalidade do “princípio da proporcionalidade”.
Nesse sentido, em Alexy os discursos racionais práticos, preocupados com a correção, passaram a se ater a justificação de critérios de forma normativa, inerentes à racionalidade. Era preciso coerência e sinceridade dos julgadores.
Ademais, deveria estar aberto a qualquer tipo de contrarrazão de quem questionasse suas justificações. Essas seriam, em suma, as regras da racionalidade. Alexy não ignorou o fato de que existem inúmeras formas de se argumentar, e dessa forma, poderiam resultar em produções contraditórias.
Por isso, enumerou algumas “regras de justificação” que estabeleceriam uma ordem preferencial entre os argumentos, entre elas o princípio da universalidade de Hare e da reciprocidade de Habermas.
Quanto ao princípio da proporcionalidade, depreende-se que sua correta utilização perpassa por 03 (três) subprincípios, quais sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito (“Lei do balanceamento”).
Alexy entende os princípios enquanto “comandos de otimização”, de modo que de acordo com as condições fáticas e jurídicas algo deva ser realizado na maior medida possível.
A Teoria da Decisão Judicial desenvolvida por Robert Alexy, consiste em uma Teoria da Argumentação pautada no diálogo racional entre os valores comunitários, com reconhecimento da supremacia dos princípios constitucionais e utilização do princípio da proporcionalidade para ponderar direitos fundamentais.
O STF ao julgar casos envolvendo direitos fundamentais adota a Teoria da Decisão Judicial de Robert Alexy como método. Entretanto, muitas críticas se tecem a esta aplicação metodológica de Robert Alexy “à brasileira”[6], em razão de uma consistir em uma prática “rasa e superficial”.
O conceito dialético na Grécia Antiga denotava a ideia de “diálogo”, que posteriormente passou a exprimir a “arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão”.
Hoje, no entanto, entende-se a dialética como a maneira pela qual as contradições da vida são ponderadas, entendendo a realidade como essencialmente contraditória e em constante mudança.
Para delimitar os estudos acerca da dialética, o filósofo escolhido para nortear o presente trabalho foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. É por meio da dialética hegeliana que são criadas três etapas, sendo a primeira a lógica do ser, a qual a dialética “procede em sentido horizontal”; a lógica da essência, apresenta ideias mais profundas, no sentido de “desenvolver-se e refletir-se”; epor fim, a lógica do conceito, o pensamento é completo.
O movimento do espírito é o de “refletir-se em si mesmo”, retratando o ciclo, que em um primeiro momento é a ideia em si” (lógica); a “ideia fora de si” (filosofia da natureza); e a “ideia ser em si e para si” (filosofia do espírito).
Desse modo, a filosofia da história em Hegel só é compreendida a partir desse movimento, na ideia em si, fora de si e o retorno histórico a si, cuja situação se retrata por meio da filosofia do espírito.
No que se refere aos núcleos conceituais que envolvem os fundamentos do sistema de Hegel são três, o primeiro é a “realidade enquanto tal é espírito infinito”; o segundo é a estrutura, a qual é “a própria vida do espírito […] e o procedimento que desenvolve a dialética”; por fim, a peculiaridade da dialética é o elemento “especulativo”.
O pensamento de Hegel é considerar a verdade como sujeito/espírito em movimento, de forma dinâmica que se renova. Nesse sentido, o método dialético de Hegel propõe um embate entre a razão e a realidade, com seu caráter processual.
Assim, a dialética […] não consiste em produzir e conceber a determinação apenas como limite e contrário, mas sim consiste em produzir e apreender, a partir dela, o conteúdo e o resultado positivos, enquanto por este meio a dialética é unicamente desenvolvimento e progredir imanente;
O método dialético[7] é um motor que “[…] se desenvolve a partir de si mesmo, progride e produz as suas determinações de maneira imanente.”, ao invés de aplicar de modo arbitrário, sendo o único método capaz de elevar a filosofia à ciência.
Considerado um dos mais profundos renovadores da teoria do Estado, por conta de seu pensamento político e organicista, além de sua filosofia idealista, a qual reside no fato de definir o Universo por meio do movimento dinâmico, a realidade, para Hegel, deveria ser compreendida em torno da própria dialética.
Assim, a tese, “momento abstrato ou intelectivo” é a primeira afirmação de uma dada realidade, até porque para afirmar determinada situação, outras condicionantes foram ignoradas, desencadeando em um conhecimento inadequado.
Já a antítese, “lado dialético ou negativamente racional” seria o desenvolvimento de todas as contradições, isto é, ir além dos limites abstratos ou intelectuais para sua superação, ou seja, para gerar uma nova realidade, uma nova perspectiva.
Em resumo, após a tese trazer uma afirmativa que, posteriormente, será negada pela antítese, há o terceiro momento: a chamada síntese.
Nesse momento “especulativo” ou “positivamente racional”, a “[…] razão capta a unidade das determinações contrapostas, ou seja, capta dentro de si o positivo emergente da síntese dos opostos e se mostra ela própria como totalidade completa”, logo, há um consenso entre o que foi estabelecido na tese e na antítese, formando uma síntese.
A dialética, nesse caso, é considerada como: a “síntese dos opostos”, exigindo um processo “[…] conciliador e sintético, no qual as divisões ou as oposições da realidade apareçam ao mesmo tempo justificadas como tais e superadas na unidade de uma síntese”35.
Diante disso, é possível afirmar que o método dialético hegeliano condiz com a realidade, uma vez que esta se apresenta em um processo dinâmico e não estático, por meio do movimento triádico tese-antítese-síntese.
A partir destas premissas, extrai-se que a ideia central da dialética é a existência dos contrários, tanto que Hegel, um dos principais teóricos da dialética, fundamenta-se nas contradições buscando a plenitude.
Com isso, não há esgotamento do seu fim, mas uma atualização, como bem ressalta Hegel, tendo em vista que a contradição é um momento necessário que deve ser superado, justamente, para que o desenvolvimento não acabe.
O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta; do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser-aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor: essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si.
Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo.
A estrutura processual é essencialmente dialética, de modo que a lide é a tese, as diferentes versões de fato e de direito, as antíteses, sendo a sentença a síntese dialética.
Pelo exposto, a proposta do trabalho é exatamente analisar se há ou não um déficit dialético nos tribunais brasileiros, por meio de uma perspectiva equivocada da utilização da teoria alexyana, uma vez que para Hegel, a dialética é o único método capaz de elevar a filosofia à ciência.
Ao assumir a utilização do princípio da proporcionalidade, no que diz respeito, principalmente, aos direitos fundamentais, os Tribunais Superiores brasileiros deveriam ter uma jurisdição mais coerente para não desaguar na falta de uniformidade e de sistematicidade.
Nas decisões judiciais, é dever do magistrado solucionar o conflito existente qualificado como a lide exarando um provimento jurisdicional denominada sentença.
É dever do magistrado zelar pelo cumprimento de todas as garantias processuais no deslinde da lide, entre elas, o exercício do contraditório que visa assegurar a participação dos interessados na formação do convencimento do magistrado.
O contraditório, em suma, garante aos interessados a distribuição equitativa de poderes e deveres, de modo a equilibrar as posições contraditórias.
As partes, por sua vez, devem instruir o processo apresentando ao juiz os fundamentos de fato e de direito que corroboram o seu pleito. Para tanto, é lícito apresentarem versões fáticas antagônicas, bem como apresentarem diferentes interpretações do direito posto, utilizando-se de teses e até mesmo jurisprudência contraditórias.
Um decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto[8], orgulhoso com os seus jargões grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras ‘varinhas mágicas”[9]: com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser.
Em 1793, o termo “politicamente correto” apareceu na Suprema Corte dos Estados Unidos durante o julgamento de um processo político. O termo também teve uso em outros países de língua inglesa nos anos 1800.O “politicamente correto” surgiu como uma tentativa de combater o preconceito e a discriminação, promovendo uma linguagem e um comportamento mais inclusivos.
Movimento de Direitos Civistem raízes no movimento de defesa dos direitos civis, especialmente no contexto do preconceito racial nos EUA.
O “politicamente correto” visa substituir expressões e atitudes consideradas ofensivas ou discriminatórias por outras que sejam mais respeitosas e inclusivas.
A sua origem está ligada à necessidade de combater o preconceito contra grupos como mulheres, negros, indígenas, homossexuais e pessoas com deficiência. O conceito de “politicamente correto” também é alvo de críticas, que o veem como uma imposição ideológica que pode restringir a liberdade de expressão e a discussão de temas importantes.
A dialética é um sistema, uma construção lógica e racional que pretende apreender o real em sua totalidade pela lógica do conflito. A tese e a antítese são abstrações ou momentos de um processo em que ambos são superados pela síntese, a sentença é, assim, o resultado dos contraditórios, por isso, é dialética em si mesma.
O magistrado, sujeito desse processo deve-se pautar nas premissas, no intuito de adequar os fatos trazidos aos autos à norma preexistente, deve avaliar todos os contrários trazidos pelas partes (versões diversas e interpretações normativas diversas) para entender as antíteses e, assim, com base no discurso racional, prolatar sua sentença que é a síntese dialética.
É possível perceber que a estrutura dialética aplicada na decisão judicial permite o controle da decisão, já que impõem a fundamentação de todas as versões fáticas trazidas (antíteses fáticas) e de todas as teses jurídicas, interpretações jurídicas opostas (antíteses jurídicas).
A fundamentação de uma decisão judicial permite que quem não obteve sucesso, entenda os motivos que levou ao magistrado se posicionar daquela forma para que, inclusive, possa recorrer, em caso de não corroborar com o que foi trazido em tal decisão. Isso permite com que o vencido possa recorrer e modificar o que foi decidido, efetivando seus direitos de modo a se alcançar a “justiça”.
A Teoria da Decisão de Robert Alexy[10] aplicada ao Brasil, sobretudo quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, com o fim de verificar se a dialética hegeliana poderia conferir maior racionalidade para uma adequada utilização desta.
Com o uso da abordagem dialética, há uma impossibilidade do magistrado ou qualquer outro operador do Direito manipular as premissas silogísticas, sendo necessário partir de uma argumentação prático racional, com base no comunitarismo, com uma maior preocupação com a dialeticidade do caso concreto e com a própria garantia do princípio constitucional do contraditório.
Referências
ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Tradução de Armando da Silva Carvalho. Vol. 9. Lisboa: Editorial Presença, 2003.
Aristóteles. Os Pensadores. Volume I. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W.A. Pickard. São Paulo: Nova Cultural, 1987.
ARRUDA, Lorena; SOUSA, Renan. Teoria da Argumentação Jurídica: Análise da Tópica de Viehweg. Revista Jurídica da UFERSA. Mossoró, v.6, n. 11, jan./jun. 2022, p. 79-101.
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 10ª. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo. A teoria da proporcionalidade e Robert Alexy: uma contribuição epistêmica para a construção de uma bioética latino-americana/ Elda Coelho de Azevedo Bussinger; orientador Aline Albuquerque Sant’Ana de Oliveira. – Brasília, 2014. Tese (Doutorado – Doutorado em Bioética) – Universidade de Brasília, 2014.
BUSSINGUER, Elda; SILVA, Gabrielle Saraiva. ZAGANELLI, Juliana. A Teoria da Decisão Judicial de Robert Alexy e a Dialética Hegeliana: Um Estudo da Aplicação do Princípio da Proporcionalidade no Brasil. Revista Ágora Filosófica. Recife, v.20, n.1, p. 130-153, jan./abr. 2020.
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jurisdição constitucional democrática: atualizada pela Emenda Constitucional n. 45/2004 e pelas Leis n. 11.417/2006 e 12.063/2009/ Álvaro Ricardo de Souza Cruz. – 2 ed. rev. e ampl. – Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Traduzido por João Baptista Machado. 6ª.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998
KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo: Editora Brasiliense, 1999.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1988.
REALE, Giovanni; DARIO, Antiseri. História da Filosofia: Do Romantismo ao Empiriocriticismo. V. 5. São Paulo: Editora Paulus, 2007.
RECK, J. R. Observação Pragmático-Sistêmica do Silogismo Jurídico e sua Incapacidade em Resolver o Problema da Definição do Serviço Público. Revista do Direito UNISC, Santa Cruz do Sul. n. 37, p. 31-52, Jan-Jun. 2012.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 12ª. ed. Porto: Edições Afrontamento, 2001.
SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: Lúmen Juris, 2006.
HEGEL, Georg W. F. Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Ediciones Solar y Libreria Hachette, 1968.
HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002.
HEGEL, Georg W. F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução de Norberto de P. Lima. São Paulo: Editora Ícone, 1997.
HEGEL. Georg Wilhelm Friedrich. Vida e Obra. Coleção Os Pensadores. Tradução de Henrique Cláudio de Lima Vaz. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1980.
[1]O Princípio da Incerteza, também conhecido como Princípio de Indeterminação, é um conceito fundamental da mecânica quântica, enunciado por Werner Heisenberg. Ele estabelece que, para certos pares de propriedades físicas de uma partícula, como posição e momento linear, não é possível determinar simultaneamente ambos com precisão ilimitada. Em outras palavras, quanto mais precisamente uma propriedade é medida, menos precisamente a outra pode ser conhecida. O modelo atômico de Bohr, que descrevia os elétrons em órbitas definidas, é incompatível com o Princípio da Incerteza. O modelo de Bohr, ao postular órbitas definidas, implica que a posição e o momento linear dos elétrons podem ser conhecidos com precisão absoluta, o que contraria o Princípio da Incerteza.
[2]O silogismo é uma estrutura de raciocínio dedutivo criada por Aristóteles, que utiliza duas premissas para chegar a uma conclusão lógica. É um argumento composto por três termos: maior, médio e menor, que se interligam para formar a conclusão. Como funciona: Premissa Maior: Uma afirmação geral que inclui o termo maior e o termo médio. Premissa Menor: Uma afirmação específica que inclui o termo médio e o termo menor. Conclusão: A relação lógica entre as duas premissas, que inclui os termos maior e menor. Exemplo: Premissa Maior: Todos os homens são mortais. Premissa Menor: Sócrates é um homem. Conclusão: Logo, Sócrates é mortal. Regras para a formação de um silogismo: O termo médio deve estar presente nas premissas, mas não na conclusão. O termo médio deve estar presente em ambas as premissas. Os termos não podem ser maiores na conclusão do que nas premissas. Se as duas premissas forem afirmativas, a conclusão também deve ser afirmativa.Se as duas premissas forem negativas, não é possível tirar uma conclusão válida. A conclusão segue a parte “fraca” das premissas (negativa e/ou particular).
[3]Viehweg, partindo deste instrumental erigido por Aristóteles e Cícero, afirma que a tópica consiste em uma técnica de pensamento orientada para o problema. Seria, assim, um verdadeiro estilo de pensar, que parte do problema apresentado, para a resolução do próprio problema. Viehweg propõe-se, então, a partir do exame da jurisprudência romana, verificar se esta fazia uso efetivo da tópica aristotélica, e, em que medida a volta do paradigma tópico de pensar jurídico dos romanos repercutiria na jurisprudência atual.
A obra de Viehweg deve-se remontar às concepções filosóficas, sobre tópica, de Aristóteles e de Cícero. A tópica, em Aristóteles, diferencia a feição do pensar apodítico da feição do pensar dialético. Apodítico, para Aristóteles, é tudo aquilo que se ocupa da verdade, e dialético, para o filósofo grego, é tudo aquilo que parte das opiniões geralmente aceitas. Neste contexto, Viehweg defende que, para Aristóteles, os Topoi são pontos de vista aceitáveis em toda parte, que, utilizados a favor ou contra a opinião aceita, podem conduzir à verdade, pois, para o estagirita, a Tópica se refere, ainda, à busca de um método, investigativo, de raciocínio no qual se perquire a solução de qualquer problema proposto.
É certo, que a Tópica de Theodor Viehweg ao centrar a atenção no problema, possibilita uma série plural de escolha de sistemas argumentativos que podem ser úteis às soluções dos problemas jurídicos. A utilização dos Topoi, no entanto, por ter base fundada no senso comum de uma sociedade, pode ser muito perigosa no caso concreto, visto que o senso comum social pode se alicerçar em princípios pravos. Na Grécia Antiga, onde os escravos não tinham direito à cidadania, por exemplo, o senso comum (argumentos aceitos de forma geral em todos os lugares) poderia afirmar que um escravo por dívidas, por ser um bem, poderia ser morto a qualquer momento pelo seu proprietário. Claro que este exemplo trata de um outro tempo, e de uma outra sociedade, o que, no entanto, não retira de cena o caráter desumano de um conceito do senso comum. A escravidão por dívidas na Grécia Antiga foi abolida pela lei escrita, a Seisachtheia do legislador Sólon.
[4]No âmbito do Direito, o comunitarismo é uma perspectiva teórica que enfatiza a importância da comunidade na definição e aplicação das regras jurídicas. Diferentemente do individualismo, que prioriza os direitos e interesses de cada pessoa isoladamente, o comunitarismo considera que as pessoas pertencem a comunidades e que as comunidades têm valores, tradições e costumes que influenciam a justiça e a lei. Principais aspectos do comunitarismo no Direito: Reconhecimento da comunidade: O comunitarismo destaca a importância da comunidade na formação e na manutenção de uma ordem social justa. A comunidade é vista como um elemento fundamental na definição de valores, princípios e práticas que devem ser protegidos pelo direito. Valores comunitários: Para os comunitaristas, o direito não deve se limitar a proteger os direitos individuais, mas também deve considerar e proteger os valores e as tradições da comunidade. Isso significa que a lei deve ser adaptada às necessidades e aos costumes locais, e não apenas aos princípios universais. Justiça distributiva:O comunitarismo também se preocupa com a distribuição de bens e recursos na comunidade. A justiça, neste caso, não se limita a garantir os direitos individuais, mas também a garantir que os membros da comunidade tenham acesso aos recursos necessários para viver uma vida digna. Pluralismo e reconhecimento da diversidade: O comunitarismo reconhece que as comunidades são diversas e que diferentes grupos sociais têm valores e interesses diferentes. A lei deve reconhecer essa diversidade e garantir que os direitos e as responsabilidades de todos os membros da comunidade sejam respeitados. Ética da responsabilidade:Os comunitaristas defendem que os indivíduos têm uma responsabilidade para com a comunidade. Eles devem contribuir para o bem-estar da comunidade e devem respeitar seus valores e tradições. Crítica ao individualismo liberal:O comunitarismo critica o individualismo liberal, que considera que o indivíduo é independente da comunidade e que seus direitos são absolutos. Os comunitaristas defendem que o indivíduo não pode ser separado da comunidade e que seus direitos devem ser exercidos em consonância com os valores comunitários.
[5]A Jurisprudência de Valores, no âmbito do Direito, é uma corrente de pensamento que enfatiza a importância dos valores e princípios na interpretação e aplicação das normas jurídicas, em contraposição à Jurisprudência dos Conceitos, que prioriza a literalidade da lei. A Jurisprudência de Valores busca identificar os valores subjacentes à lei e utilizá-los como guia para a tomada de decisão judicial, especialmente em casos em que a norma não é suficientemente clara ou específica. A Jurisprudência de Valores, também conhecida como Jurisprudência dos Valores, é uma perspectiva que considera os valores como elementos centrais na análise jurídica. Ao invés de se fixar apenas no texto da lei, ela busca compreender os princípios e valores que a lei visa proteger e promover, utilizando-os para orientar a interpretação e a aplicação da norma em casos concretos. Surgiu como uma reação à Jurisprudência dos Conceitos, que enfatizava a importância do sistema lógico e da análise conceitual da lei, sem dar tanta atenção aos valores e princípios. Principais Características:Enfoque nos Valores: A Jurisprudência de Valores prioriza a identificação e a aplicação dos valores subjacentes à lei, como a justiça, a igualdade, a liberdade, a segurança jurídica, entre outros. Interpretação Contextual: A interpretação da lei não se limita à literalidade do texto, mas leva em consideração o contexto social, econômico e cultural em que a lei é aplicada. Decisão Justificada: As decisões judiciais devem ser fundamentadas não apenas na lei, mas também nos valores e princípios que embasam a decisão.
[6]A aplicação metodológica de Robert Alexy “à brasileira” refere-se à forma como as ideias de Alexy sobre princípios, regras e ponderação são adaptadas e utilizadas no contexto do direito brasileiro. Isso inclui a busca por uma racionalidade jurídica, a análise de direitos fundamentais e a solução de conflitos entre princípios através da ponderação. Teoria dos Direitos Fundamentais:Alexy destaca que os direitos fundamentais são considerados princípios e, como tal, podem entrar em conflito. A ponderação é o método para resolver esses conflitos, avaliando qual princípio deve prevalecer em cada caso específico. Princípios e Regras:A distinção entre princípios e regras é fundamental na teoria de Alexy. As regras são normas que devem ser seguidas ou não, enquanto os princípios são normas que devem ser cumpridas na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Ponderação:A ponderação é o processo de balanço entre diferentes princípios em conflito, buscando a solução que melhor equilibra os interesses em jogo. Direito Brasileiro:No direito brasileiro, a teoria de Alexy é utilizada para fundamentar decisões judiciais, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais. O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu artigo 489, § 2º, a importância da argumentação jurídica para a fundamentação das decisões judiciais.
[7]A dialética de Hegel, também conhecida como dialética hegeliana, é um método de pensamento que busca compreender a realidade através da evolução e desenvolvimento de ideias e conceitos. Este método, essencial para a filosofia de Hegel, é baseado na ideia de que a realidade é dinâmica e em constante transformação, movendo-se através de um processo de tese, antítese e síntese. Elementos da Dialética Hegeliana:Tese:A tese é a ideia ou afirmação inicial, o ponto de partida do processo dialético.Antítese:A antítese é a negação ou oposição à tese, a contradição que surge e desafia a ideia inicial.Síntese:A síntese é a superação da contradição entre tese e antítese, resultando em uma nova ideia que integra os aspectos positivos de ambos e avança o processo dialético. Como a Dialética funciona:A dialética de Hegel é um processo contínuo de desenvolvimento, onde a tese se transforma em antítese, e a antítese, ao ser confrontada com a tese, gera uma síntese que, por sua vez, se torna a nova tese para o próximo ciclo. Este processo de interação e transformação é o que, para Hegel, impulsiona o desenvolvimento do conhecimento e da realidade.
[8]A expressão “politicamente correto” surgiu nos Estados Unidos, especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990, como parte de uma reação conservadora a movimentos de esquerda e de defesa dos direitos civis. Essa reação foi alimentada pela percepção de um suposto autoritarismo linguístico da esquerda, que estaria impondo uma linguagem que, segundo os críticos, seria excessivamente sensível e que limitava a liberdade de expressão. No Brasil, o termo também ganhou força, especialmente a partir dos anos 1990, e tem sido usado em debates sobre educação, política e direitos humanos. Origem nos EUA:A expressão “politicamente correto” se tornou mais popular nos EUA como uma forma de criticar a linguagem e o discurso de grupos de esquerda, especialmente em universidades e na esfera pública. Reação Conservadora:A direita americana utilizou o termo para denunciar o que considerava uma forma de autoritarismo linguístico, acusando a esquerda de impor uma linguagem que limitava a liberdade de expressão e a discussão de temas polêmicos. No Brasil, o termo também ganhou força, especialmente em debates sobre educação, direitos humanos e política.
[9]A expressão “vara de condão” ou vara mágica refere-se a uma varinha mágica utilizada em contos de fadas, feiticeiros e bruxas, com poderes encantatórios e milagrosos. É uma expressão sinónima de “varinha mágica”. A palavra “condão” vem de “condõar”, que significa “dar”, “conceder” ou “atribuir”. A expressão “vara de condão” é usada para referir-se a um objeto com poderes sobrenaturais, capaz de realizar feitos mágicos. A origem da expressão “vara de condão” remonta à magia e ao folclore europeu, onde varinhas mágicas, geralmente feitas de madeira, eram usadas por magos, fadas e feiticeiros em seus rituais e ações mágicas. A varinha era vista como um objeto que canalizava a magia e dava poder aos seus utilizadores. A expressão também pode referir-se a um objeto com poderes sobrenaturais, capaz de realizar feitos mágicos. É comum encontrar esta expressão em contos e histórias de fantasia, onde as varinhas são usadas por personagens mágicos para realizar feitiços e encantamentos.
[10]A Teoria da Decisão de Robert Alexy, também conhecida como Teoria da Argumentação Jurídica, visa justificar e fundamentar as decisões judiciais, enfatizando a importância da ponderação de princípios quando há conflito entre eles. A teoria defende que os direitos fundamentais, por serem princípios, podem entrar em conflito, exigindo uma decisão ponderada e racional para determinar qual deles deve prevalecer. Pontos Chave da Teoria:Princípios vs. Regras:Alexy distingue entre princípios e regras, sendo que os princípios são orientações que exigem ponderação em caso de conflito, enquanto as regras são prescrições que se aplicam diretamente. Ponderação:A ponderação é um processo que busca encontrar a solução mais adequada para um conflito de princípios, considerando os valores e os interesses envolvidos. Proporcionalidade:A ponderação está intimamente ligada ao princípio da proporcionalidade, que exige que as decisões sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. Objetividade e Racionalidade:A teoria busca dar uma maior objetividade e racionalidade às decisões judiciais, tornando-as mais justificáveis e previsíveis. Argumentação:A argumentação jurídica é essencial para a justificação das decisões, sendo que a teoria de Alexy fornece ferramentas e modelos para construir argumentos sólidos e coerentes.